 Detalhe de Desejo (2022), de Heleno Bernardi, que integra a mostra Rumores, com curadoria de Daniela Name
Detalhe de Desejo (2022), de Heleno Bernardi, que integra a mostra Rumores, com curadoria de Daniela Name
Por Daniela Name*
Antes de mais nada, é preciso falar do vermelho, porque é ele (ou ela, a cor) que chega na frente em Carimbos, série de trabalhos que dá corpo à exposição Rumores, de Heleno Bernardi. O primeiro tom da história da arte tingiu as paredes das cavernas e mais tarde se metamorfoseou em fogo e sangue nas muitas odisseias da imagem. A partir dos caminhos de representação desses dois grupos semânticos principais, o vermelho tem sido a chama das bandeiras, das guerras e revoluções, e ainda o rio que corre nas paixões arrebatadoras, no manto das princesas, nas cortinas do drama, nos tapetes da fama.
Um fluxo que escorre da vida para a morte, e simultaneamente reafirma os ciclos como os renascimentos que estalam, tal como um corpo em brasa, no coração das cinzas de cada término.
Vermelho que reacende começos. Da volúpia, do estado de atenção. Vermelho dos transbordamentos, saídos de um Dionísio no painel de pastilhas de vidro na Itália; vindos de um Satanás medieval que temos aprendido a ressignificar como o opositor do senso comum, como o desafio doloroso e oportuno.
Vem do vermelho a conexão felizmente ambígua entre o gesto de carimbar e a trajetória deste artista inquieto, que tem tirado partido das noções de acúmulo, de opacidade e de informe para conceber seus trabalhos, suas criaturas. Estes são mergulhos para linhas adiante.
Por ora, sigo banhada em carmim, e lembrando que “a cor é o toque do olho, a música do surdo, a palavra que vem das trevas”, como ensinou o próprio Vermelho, vertido em personagem e narrador de Meu nome é Vermelho, do escritor turco Orhan Pamuk. Um dos narradores da trama, a cor fala de si mesma: “Não tenho medo nem das cores, nem das sombras; menos ainda da multidão ou da solidão”, diz. E continua: “Olhem para mim: é bom viver. Vejam como é bom ver! Viver é ver”.

Sim, viver é ver e rever. E a arte pode ser um testemunho humano sobre a maravilha da vida. No vermelho, uma síntese das inflamações e das sangrias – a beleza da vida também reside em estados de transição, em movimento de alquimia. No vermelho, aquele que não teme “a multidão ou a solidão”, um estado de turbulência e de atenção que prevê a companhia do outro, da outra. Vermelho como um espelho do desejo da modificação pelo encontro e pelo diálogo, da superfície que pode ser chicote e vulva, espelho carnudo dizendo “vem”.
Não escolho o verbo “dizer” em vão. O vermelho é uma espécie de grito em meio às repetições dos carimbos na superfície do papel, sussurros que vão infiltrando a membrana branca com insistência. Suas marcas são como som ao redor incapaz de ser abafado, murmúrio que se faz audível e acrescenta novas camadas de sentido e memória às definições correntes de cada vocábulo.
 O artista em ação: carimbar incessante, que parece não ter fim, até criar a superfície monocromática
O artista em ação: carimbar incessante, que parece não ter fim, até criar a superfície monocromática
Foucault fez a costura de muitos tempos ao pensar as palavras e as coisas como um jogo de espelhos semelhante ao que ocorre em As meninas, de Velásquez. A representação como uma coincidência desencontrada, como a impossibilidade de uma verossimilhança exata, perfeita. Entre isto e aquilo há sempre um lapso, um soluço, um enigma de esfinge que devora e quer ser devorada, um ver para ser visto que se evidencia pelo casal de monarcas presente apenas como reflexo, o que está fora do quadro – da escrita, da fala –, comparecendo no discurso narrativo ou imagético como um fantasma obrigatoriamente ficcional do mundo.
Assim ocorre com os carimbos de Bernardi, em que ele gira um quadrilátero vermelho sobre uma folha de papel, obtendo uma forma. Esta é preenchida, então, com uma mesma palavra carimbada inúmeras vezes. Carimbar é, em si, um gesto que aponta para a transferência e também para certa alegoria. Explico: a tinta carimbada, ao expressar como avesso e gravura o corpo material do carimbo, não deixa de ser um corpo no lugar de outro.
Ao longo da história da arte contemporânea, o carimbo tem sido meio de expressão importante para pensar a representação e promover a fricção entre meio e mensagem, entre o suporte de um objeto artístico e sua voltagem discursiva. Apenas no campo da arte brasileira, isso fica evidente não apenas na chamada arte postal, com a contribuição de nomes como Sonia Andrade ou Paulo Bruscky; se pensarmos alguns trabalhos dos anos 1960 e 1970, como os de Cildo Meireles, Thereza Simões e Paiva Brasil, constataremos que o carimbo foi uma forma de recobrir as coisas do mundo com uma teia semântica moldada pela repetição de gestos e palavras.
“Quem matou Herzog?”, perguntou Cildo inúmeras vezes. A insistência na interrogação, em plena ditadura, indicava a subversão da versão oficial de suicídio do jornalista nos porões da tortura em São Paulo. Já Thereza e Paiva usaram o carimbo para cobrir paredes e arquitetura com a nebulosa formada por palavras repetidas – uma antecipação do sentido de “nuvem de tags”, que só seria conhecido após o advento da internet –, e ainda constituir uma aproximação da ideia de site-specific com a literatura, já que uma voltagem ficcional acaba revestindo a arquitetura.
Observar como Carimbos se relaciona com a trajetória anterior de Bernardi, no que diz respeito ao acúmulo, além de natural, aponta para uma maturidade de seu trabalho. Esse excesso presente no grito vermelho, emulado pela repetição do carimbar, aparece com muita força em trabalhos anteriores – caso da purpurina dourada que revestiu um enorme ambiente do Cassino da Urca, em Cassino, ou da repetição de uma mesma forma de corpo, sugerida como infinita, nos colchões de Enquanto falo, as horas passam.
 Em Cassino, Heleno despejou toneladas de purpurina sobre os escombros do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, provocando uma epifania para os sentidos.
Em Cassino, Heleno despejou toneladas de purpurina sobre os escombros do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, provocando uma epifania para os sentidos.
O acúmulo é igualmente uma característica importante de sua pintura, em que as diferentes camadas/gestos sobre a superfície vão estabelecendo um diálogo interno, no qual frequentemente uma nova investida sobre a tela reinventa e contradiz a grade proposta antes.
Em Carimbos, a percepção de acúmulo aparece em duas vias que se sobrepõem, fazendo com que essa série contribua de modo singular com uma possível genealogia desse tipo de gravação ou transferência na história recente da arte brasileira. Em um dos caminhos, observa-se o gesto que se repete em um contínuo, como se nunca pudesse ter fim, gerando o tal rumor das palavras a que tanto tenho me referido. No outro, há a própria materialidade do vocábulo, produzida com a tinta, e o modo como essa estampa vai se sobrepondo a outras, criando uma rede de palavras que marca e trança a superfície do papel, para depois se dissolver em uma grande área de monocromo vermelho.
Em alguns trabalhos, sobrevive um ruído, vindo das bordas, que torna o nome entrevisto. É assim em “Atlântico” – mar vermelho, túmulo de vidas, estrada de saques, perdas. Neste, uma possível síntese para o próprio processo de violência existente em todas as línguas: quando um idioma se aglutina, é porque assassinou muitos outros. No caso do português falado no Brasil, a trilha dos genocídios de corpos e culturas passa necessariamente pelo Atlântico, por onde chegaram os que trouxeram o silêncio das centenas de idiomas originários; por onde vieram os que foram obrigados a esquecer sua língua e seu nome para trabalhar nas lavouras e erguer o Brasil. Como na língua, frequentemente os trabalhos de Bernardi trazem refugos do que foi sendo preenchido pela tinta vermelha – fantasmas das palavras adormecidas, ecos de outros falares.
 Heleno Bernardi, Atlântico, tinta de carimbo sobre acrílica em placa de compensado, 160 x 220 cm, 2021
Heleno Bernardi, Atlântico, tinta de carimbo sobre acrílica em placa de compensado, 160 x 220 cm, 2021
Há outro ponto importante em Carimbos, não apenas no que diz respeito a uma conversa que Bernardi estabelece consigo mesmo, como artista, mas também a uma ponte estabelecida com um legado neoconstrutivo brasileiro. Não é gratuita a citação que ele escolhe fazer a Ninho, Ovo e Bicho – Hélio Oiticica, Lygia Pape e Lygia Clark, respectivamente – em trabalhos que representam estandartes em vez de papel, tremulando como um sinal daquilo que esse projeto acalenta como uma gestação.
É certo que o quadrilátero vermelho que gira modularmente na superfície do papel, como um relógio de sol, aponta para a nossa trilha geométrica identitária. Uma filiação que vai muito além do neoconcretismo, tangenciando uma geometria ancestral de nossos povos originários (carimbo como pintura do corpo) e das muitas nações africanas que nos constituíram (geometria como fina estampa, como código narrativo nos tecidos). É certo que a ideia de poesia visual – e de um rumor das coisas do mundo recobrindo pintura e desenho, ao mesmo tempo em que tinge paredes e livros – também filia o trabalho de Bernardi a este momento da nossa história da arte recente. Mas há pontes menos evidentes e muito fortes.
 Heleno Bernardi, NINHO OVO BICHO (tributo neoconcreto), 2022, Carimbo com tinta acrílica sobre tecido de algodão, 48 x 64 cm (múltiplo)
Heleno Bernardi, NINHO OVO BICHO (tributo neoconcreto), 2022, Carimbo com tinta acrílica sobre tecido de algodão, 48 x 64 cm (múltiplo)
Usei a palavra “rumor”, vista de forma multiplicada no título da mostra, também por dar conta de um caldo sonoro indistinto, mas presente. Jeanne Marie Gagnebin lembra como, em todas as odisseias, escrever é uma forma de lembrar e, portanto, de dar sobrevida; e escrever é sentença de morte – cada palavra como o túmulo daquilo que não é mais. Oiticica, Pape e Clark fazem da geometria ninho, ovo e bicho, transformando Mondrian em um corpo orgânico – a forma que pulsa e respira. Bernardi, por sua vez, reafirma palavra, cor e forma como fronteiras do informe, poema do ruído e das beiras.
Se em Apologia de Sócrates, um de seus trabalhos anteriores, o artista dissolveu a cabeça do filósofo – mãe de todas as cabeças desta invenção a que chamamos Ocidente – em espuma de sabão, agora ele cria lápide e horizonte para tudo o que pode ser gritado em vermelho e sussurrado insistente e repetidamente pelos carimbos, até que a multiplicação do gesto dissolva e reinvente sentidos. No sangue e no fogo, fluxo e bandeira, os ciclos da prosa do mundo, banhados dos vazios e dos silêncios que vêm das bordas.
* Curadora de Rumores, Viewing Room de Heleno Bernardi (veja aqui).
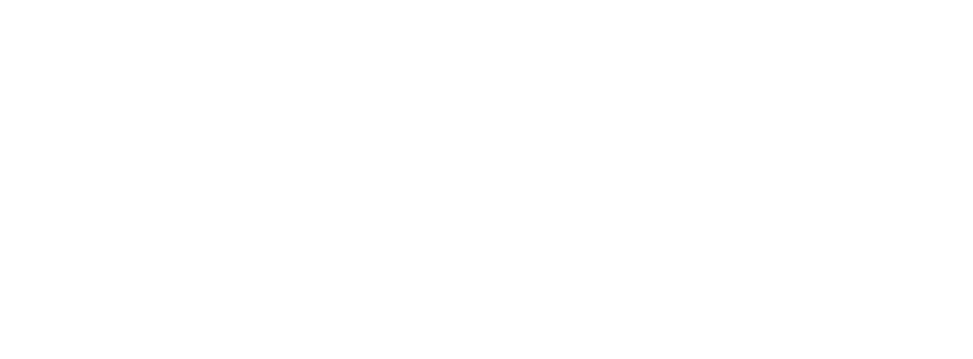
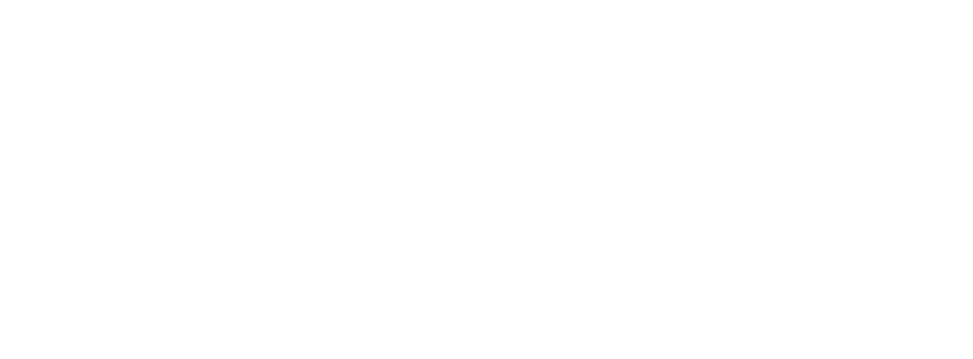



![[NEWS] dos artistas representados](https://janainatorres.com.br/wp-content/uploads/2024/01/1682367097933-scaled.jpg)

